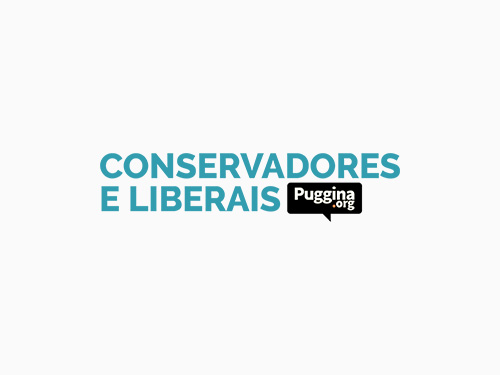“O Comunismo não é a fraternidade: é a invasão do ódio entre as classes.
Não é a reconciliação dos homens: é a sua exterminação mútua.
Não arvora a bandeira do Evangelho: bane Deus das almas e das reivindicações populares.
Não dá tréguas à ordem. Não conhece a liberdade cristã. Extinguiria a religião.
Desumanaria a humanidade. “Everteria, subverteria, inverteria a obra do criador”.
Rui Barbosa
O Levante Comunista de 1935 foi a resultante natural das efervescências ideológicas que haviam sido inoculadas na mente de muitos nacionais, a partir do êxito da revolução comunista na Rússia em 1917. As idéias professadas encontravam eco nas classes desfavorecidas e contavam com o valioso apoio das elites, que se perpetuavam no poder, pouco fazendo em benefício da população. Aquelas idéias, difundidas no Brasil, desde 1908, por meio da Confederação Operária Brasileira, que se destacava pela fomentação das greves de cunho reivindicatório e pela oposição sistemática à Lei do Serviço Militar Obrigatório, atendiam com suas promessas, anseios generalizados. Trabalhadores em geral, estudantes, inclusive parte dos “Tenentistas”, e outros segmentos, agora unidos, não apenas contra o governo de Getúlio, que propugnavam por mudanças radicais, buscando a tomada do poder para a implantação de um novo regime.
A vitória da revolução Comunista na Rússia empolgou aos comunistas brasileiros, entusiasmados com as possibilidades de sua disseminação no Brasil. Em consequência, foi criado o Partido Comunista em 1922, que passa a promover intensa doutrinação marxista. O movimento pró - soviético orientava - se para o socialismo e aliava - se a outras correntes esquerdistas e ao Partido Comunista, que preparava a revolução marxista no Brasil. Para isso, incentivava abertamente o incitamento da população à luta armada e à subversão da ordem, visando à tomada do poder pela força.
Os constantes distúrbios provocados pelo Partido Comunista, interessado em subverter a ordem, culminaram com a decretação de sua ilegalidade pelo Governo de Artur Bernardes, em 1928, atemorizado com as ações cada vez mais violentas do Partido.
Apesar da clandestinidade, a atuação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) era incessante e, aproveitando - se da forte carga emocional e revolucionária, sob a qual viviam alguns militares, oficiais, sargentos e cabos, cooptou adeptos em muitas unidades militares.
O Capitão do Exército Luiz Carlos Prestes, um dos mais ativos integrantes do tenentismo, projetou - se como figura de proa em todos os movimentos da década de 20, forjando um passado marcado por ações contestatórias aos governos vigentes, culminando por destacar - se como Chefe de Estado - Maior da coluna de revoltosos, que sob a chefia de Miguel Costa, recebera a designação de “Coluna Prestes”, agrupamento composto pelos remanescentes da derrotada Revolução deflagrada em 1924, que perseguidos pelas tropas federais, durante quase três anos percorreram parte do território nacional.
Prestes pontuara a sua conduta com radicalismo. Afrontara impunemente, por diversas vezes a ordem legal, no entanto, atuava ostensivamente ao abrigo de um aparato jurídico inepto, com autoridades civis e militares sempre complacentes com a quebra da lei e da ordem, emergindo como eterno revolucionário, e após os fracassos anteriores, encontrara nas teorias marxistas o ambiente propício para dar vazão às suas aspirações. Em 1930, convertido à causa bolchevista, foi alçado à posição de chefe do PCB. Em 1931, após um ano de estágio na Rússia, retornou, assumindo a posição de líder do Partido Comunista.
Em 1934, aglutinando socialistas, comunistas, militares de esquerda e liberais, e adotando a política da frente única, foi organizada a Aliança Nacional Libertadora (ANL), que encobria a ação do PCB, que de fato, atuava sob a orientação secreta e direta do partido.
A conspiração para a tomada do poder foi ganhando espaço e adeptos, através de intensa pregação, até que, julgando - se fortalecidos pela ampla propaganda de caráter doutrinário, iludidos com a possibilidade de receberem forte apoio popular, além da efetiva agregação de setores civis e militares, foram iniciados os planejamentos e traçados os planos para o desencadeamento do golpe.
O Governo, apesar dos fortes indícios que era articulada uma ação armada, por inépcia ou torpes intenções, pouco ou nada fazia. Maldosamente, alguns entendiam que o Governo, enfraquecido politicamente, assistia às manobras subversivas com a intenção de, ao degolar o movimento, restaurar o regime ditatorial nos moldes anteriores.
A Intentona eclodiu, prematuramente, no dia 23 de novembro, em Natal, propagou - se no dia seguinte para o Recife, para irromper no Rio de Janeiro, no dia 27, no 3º Regimento de Infantaria, foco principal dos insurgentes, na Praia Vermelha e na Escola de Aviação, no Campo dos Afonsos.
Em diversos quartéis, militares comunistas perpetraram a chacina de outros militares, mediante atos de traição e covardia.
Felizmente, sem lograr o desembocar de todas as ações planejadas, sem poder contar com a propagação da sublevação por outras unidades militares, e o engajamento de outros setores, pouco a pouco a Intentona foi reduzida a fragilidade de esparsos núcleos, que cercados, renderam - se às tropas governamentais.
Posteriormente, os revoltosos foram anistiados, mas perdoados pela sociedade, não pestanejaram em encetar, no futuro, uma nova tentativa para estabelecer o regime marxista no Brasil.
Brasília, DF, 25 de novembro de 2014
* General de Brigada Reformado
(Nota do editor: Este texto dismistifica os números do desemprego no Brasil)
Diz uma piada que a estatística é a tal coisa pela qual, se eu comer um frango inteiro e outra pessoa jejua, resulta que cada um se alimentou com a metade de um frango. Pois é. As estatísticas não são fotografias da realidade, mas abstrações resultantes de um cálculo matemático no qual os dados são juntados e organizados na base de critérios definidos. Se os dados finais são assumidos sem levar em conta os critérios da pesquisa, podem induzir interpretações enganosas.
Consideramos, por exemplo, a estatística IBGE sobre emprego e desemprego no Brasil. Entre a população na idade de trabalho - 15/65 anos – (130 milhões de brasileiros), a pesquisa aponta que apenas 3% são desempregados (4 milhões).
Uma porcentagem entre as menores do mundo: uma maravilha em comparação com as altas taxas de desempregos nos países europeus. Porém o entusiasmo esvanece na medida em que ficam esclarecidos os critérios da pesquisa.
Quem são os incluídos no conjunto dos desempregados? Apenas aqueles que procuram emprego e não encontram ou, pelo menos, assim declaram.Ou seja, não são considerados desempregados aqueles que mesmo não tendo um emprego não o procuram.Assim, por exemplo, não é considerado desempregado quem se contenta de biscates e até mesmo quem recebe o seguro desemprego e não esta procurando trabalho.
Portanto, os conjuntos que se tornam evidentes na estatística do IBGE são três: a) os empregados, b) os desempregados, c) aqueles que não trabalham nem procuram emprego. Entre 100 brasileiros na idade de trabalho (15-65 anos), 53 trabalham (pouco menos de 70 milhões), 3 são desempregados (4 milhões), 44 nem trabalham nem procuram emprego (acerca 57 milhões).
Em soma, pouco mais da metade da população brasileira em idade de trabalho esta trabalhando e pouco menos da metade (3%+44%= 47%) não trabalha. Evidentemente, não há muito para comemorar.
Identifiquei-me demais com esta crônica de Paulo Briguet!
O que mais me espanta na esquerda é que ela nutre um poderoso sentimento de revolta contra a estrutura da realidade. Para não enlouquecer diante dos fatos, o militante esquerdista comum – que individualmente pode até ser um bom sujeito – é obrigado a mergulhar numa espiral de autoengano, numa rede de mentiras que os companheiros tecem para si mesmos. Foi dessa espiral demoníaca que me livrei ao abandonar as ilusões do socialismo. Exercício curioso é analisar as ofensas que você passa a receber depois que deixa de ser esquerdista. Os xingamentos mais comuns são os seguintes: fascista, nazista, reacionário, intolerante, fundamentalista e raivoso.
Fascista? Não custa lembrar que o fascismo é aquela doutrina que defende “tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado”. Em que medida um defensor das privatizações e da economia de mercado feito eu se encaixaria nessa frase?
Nazista? O nacional-socialismo defende a rígida discriminação racial e coloca o judeu como supremo inimigo da coletividade. Um amigo dos judeus e defensor do Estado de Israel, como eu, seria qualificado de que maneira pelos nazistas de verdade?
Reacionário? Sou eu quem preconiza o controle da mídia, a criminalização de opiniões e a supressão de liberdades públicas? Sou reacionário apenas na medida em que reajo contra essas porcarias.
Intolerante? Você já conversou dez minutos comigo?
Raivoso? Por quê? Porque defendo a instituição da família, santuário do amor e da paz social? Raivoso por ser contrário ao aborto, uma das piores formas de assassinato?
Fundamentalista? Por preferir racionalidade a ideologia? Por acreditar que ciência e fé são compatíveis?
Além da montanha de 100 milhões de cadáveres no último século, o pior legado da esquerda materialista foi o de dividir e envenenar até as mais puras relações de afinidade humana. Ao instaurar um clima de permanente desconfiança e patrulhamento, a esquerda está matando a alma das pessoas, depois de provar que sabe como ninguém matar-lhes os corpos.
Passou praticamente despercebido do noticiário da semana passada a decisão da direção da Câmara Federal de revogar uma resolução dela própria, de 1948, em que cassou o mandato de 14 deputados do Partido Comunista. A cassação fora baseada em sentença do Tribunal Superior Eleitoral, confirmada pela Supremo, porque baseada na Constituição. Conhecida como constituição liberal, ela vedava, no entanto o Partido Comunista, porque ele não aceitava a pluralidade de partidos, nem a liberdade, nem a democracia nos países em que estava no poder.
Recuperaram os mandatos, entre outros, o escritor Jorge Amado, o mentor da guerrilha do Araguaia, João Amazonas e o autor do Manual da Guerrilha Urbana, Carlos Marighella – todos agora mortos. O Senado, por sua vez, devolveu o mandato a Luís Carlos Prestes que, patrocinado por Moscou, tentou tomar o governo em 1935, num levante que matou 32 militares, a maioria enquanto dormia no quartel da Praia Vermelha.
A líder do Partido Comunista do Brasil, a gaúcha Manuela d`Ávila, num discurso patético, disse que demorou o reconhecimento da injustiça feita contra quem lutou pela democracia e pelos direitos humanos. Ela deve julgar que todos sofrem de alienação mental. Quem mais oprimiu a democracia e os direitos humanos no planeta, no século XX foi o Partido Comunista. Onde tomou o poder, a partir de 1917, suprimiu todos os direitos e impôs ditaduras cruéis, torturadoras, sangüinárias, de que hoje ainda temos resquícios, em Cuba e na Coréia do Norte. Foi o Partido Comunista que baixou uma cortina de ferro sobre parte da Alemanha, sobre a Polônia, a Hungria e tantas outras infelizes nações da Europa e Ásia.
Foi a maior praga do século XX, afetando a vida de milhões de habitantes de países que ficaram sob seu jugo, e de outros milhões em que os comunistas tentaram tomar o poder pela força das armas, como no Brasil, por duas vezes. O terror comunista matou mais que o nazismo de Hitler – com quem aliás, Stálin fez acordo para massacrar a Polônia. Calcula-se que os assassinatos genocidas praticados por ditadores comunistas na Europa e Ásia chegam a 100 milhões. O holocausto de Hitler matou 6 milhões de judeus.
Escapamos da ditadura comunista graças à incompetência monumental de Prestes e seus companheiros, na tentativa de golpe em 1935. Moscou, que pagava tudo e mantinha observadores em torno de Prestes, como Olga Benário, ficava atônita com os erros dos comunistas brasileiros, como pesquisou em arquivos soviéticos William Waack para o livro “Camaradas”. Mesmo assim, quando Prestes foi a Moscou no início de 1964, obteve de novo a promessa de auxílio político e militar. Em troca, garantia que “uma vez a cavaleiro do aparelho de estado, converter rapidamente, a exemplo da Cuba de Fidel, a revolução nacional-democrática em socialista.” Isso é História, que relembro agora porque muita gente, com a maior cara-de-pau vem nos falar de democracia e de direitos humanos dos comunistas.
PROJETO DE DESTRUIÇÃO
Por tudo que o governo Dilma Neocomunista Rousseff já fez só em 2014 (sem olhar, portanto, para os anos anteriores), ao se reeleger para um segundo mandato já é possível antever o quanto a continuação desse projeto de exterminação econômica e social do país, que vem sendo aplicado com muito vigor e entusiasmo pela -interventora-mor-, vai levar a uma grande destruição do país ao longo de 2015 e anos seguintes.
PERSONAGENS CONHECIDOS
Fazendo uma análise bem cuidadosa, sem ranços ideológicos ou mesmo ironias, tanto da eleição que resultou na vitória (?) apertadíssima de Dilma Rousseff para presidente quanto do projeto de governo do PT, a mesma propõe que cheguemos a uma terrível e perigosa conclusão: ao invés de Dilma, os eleitores reelegeram o desejo (incrível) de conviver com vários personagens já conhecidos, como INCOMPETÊNCIA, INTERVENCÃO e CORRUPÇÃO.
DR. CAOS
A grande novidade, que os eleitores de Dilma proporcionaram ao Brasil e ao mundo todo, consiste na eleição de um novo personagem, conhecido como Dr. CAOS, que vai conviver com os brasileiros a partir de agora. Pelo andar da carruagem, identificada pelos péssimos indicadores econômicos que vem sendo apresentados, principalmente neste final de ano, o Dr. CAOS já chega pronto, com grande disposição para ser notado e festejado pelos neocomunistas-petistas.
TERRENO FÉRTIL
Ao se juntar com o trio -INCOMPETÊNCIA, INTERVENÇÃO e CORRUPÇÃO-, que reinou absoluto em todas as camadas do governo, certamente que o novo personagem (Dr. Caos) não encontrará dificuldade alguma de entrosamento. Aliás, ao longo de seu primeiro mandato a presidente Dilma foi fertilizando o terreno para que o Dr.CAOS consiga produzir resultados magníficos antes mesmo de ser empossado.
TRAZENDO À TONA
Mesmo que a MENTIRA, o POPULISMO e o ASSISTENCIALISMO tenham sido aliados decisivos para a enorme prosperidade da INCOMPETÊNCIA, A INTERVENÇÃO E A CORRUPÇÃO junto à uma grande parcela da sociedade, por razões que vão desde o interesse financeiro ao desconhecimento proporcionado pela baixa escolaridade e/ou elevada doutrinação, quem deverá trazer tudo à tona será o já saudado DR.CAOS.
CONVIVÊNCIA LONGA...
Como não é possível enganar a todos por todo o tempo, mesmo que o período de enganação possa se alongar pelos motivos acima expostos, um dia a casa cai. É inevitável. Esta queda, geralmente, se dá pelo esgotamento do modelo e/ou pela chegada deste personagem que o povo acaba de eleger: o DR. CAOS.
Só desejo que ele seja rápido e eficiente na sua missão, para que o sofrimento seja o menor possível. Mas não descarto, pelo grau de estupidez que tomou conta do país, que a convivência com o Dr. Caos tende a ser longa. A conferir.
www.pontocritico.com
O corte de publicidade governamental na VEJA parece ser um fato. Na edição que está nas bancas não há nenhum anúncio de estatais ou de organismos governamentais. Quando Paulo Henrique Amorim publicou a informação achei que era simples expressão de um desejo, pois a medida é flagrantemente ilegal, ferindo os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade, além de contrariar uma penca de dispositivos legais do Direito Administrativo.
A distribuição da publicidade governamental não pode privilegiar os amigos dos governantes de turno nem preterir seus desafetos. As licitações têm de obedecer critérios objetivos de tiragem e circulação. Um funcionário público ao comprar um bem qualquer para um órgão público não pode escolher a firma do amigo nem mesmo sua marca preferida, há que se estabelecer critérios de qualidade e preço e comprar o bem segundo padrões objetivos de qualidade satisfatórios e preço mínimo. Com a distribuição de publicidade se passa o mesmo e segundo quaisquer critérios razoáveis seria impossível excluir a revista semanal noticiosa de maior circulação e prestígio no país! Portanto, estamos diante de um crime perfeitamente capitulado em lei!
O funcionário responsável pela decisão do corte tem de ser responsabilizado e enquadrado nas penas da Lei. Se isto não acontecer, estamos realmente sob o império do arbítrio e a lei jogada no lixo! Notem que o mesmo raciocínio pode ser aplicado aos blogs, embora neste caso, dada a novidade do meio como veículo publicitário, eles talvez não estejam explicitamente previstos na lei. É um tapa na cara dos cidadãos de bem a volumosa propaganda governamental na blogosfera e sua ausência total nos blogs não-alinhados com o petismo. Não se pode entender a demora da Veja e também dos proprietários de blogs independentes em acionar legalmente a União diante destes crimes continuados